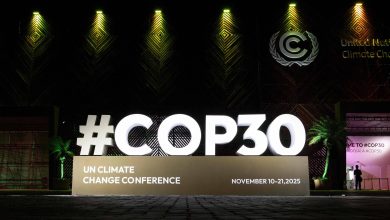Há algumas semanas, John Burn-Murdoch do Financial Times voltou ao tema da transição demográfica e lembrou um ponto que quase sempre passa batido: a queda da natalidade não é uniforme. Ela é mais profunda entre grupos seculares e progressistas, enquanto comunidades com valores mais tradicionais mantêm taxas mais próximas da reposição. A questão é como criar um ambiente em que quem quer ter filhos consiga fazê-lo sem transformar a decisão em fardo para grupos diferentes.
Um working paper recente ajuda a organizar a discussão. Sebastian Galiani e Raul Sosa simulam trajetórias populacionais e mostram que a composição pesa mais do que a média. Ao dividir a população por religião, aparecem subgrupos com fecundidade acima da reposição e forte transmissão de valores aos filhos.
Esses grupos ganham participação ao longo das gerações, elevando o fator de reposição mesmo com média nacional abaixo de 2,1. Nos Estados Unidos, a heterogeneidade surge no recorte religioso, não no racial ou étnico. No exercício global, não há colapso do agregado, há mudança de composição. São resultados preliminares de 2025.
O ponto é institucional e cultural: normas que valorizam crianças, combinadas a redes de apoio e pertencimento, reduzem o custo subjetivo de ter o número de filhos desejado. Esse ambiente pode existir em comunidades religiosas, mas também pode ser cultivado por bairros, coletivos e organizações progressistas.
A literatura microeconômica explicita os gargalos. Mikucka e Rizzi, com dados suíços em painel, mostram queda estatisticamente significativa da satisfação de vida das mães nos dois anos após o segundo filho, sobretudo onde faltam arranjos flexíveis de trabalho e cuidado infantil.
Entre homens, o efeito é positivo, o que indica que a sobrecarga resulta mais da divisão de tarefas do que de um destino inevitável. Myrskylä e Margolis documentam o padrão de pico e adaptação no primeiro filho no Reino Unido e na Alemanha, com impactos de bem-estar mais benignos quando a parentalidade é adiada para idades com mais tempo e renda. Dinheiro ajuda, mas tempo e rede pesam mais.
O componente comunitário costura o quadro. Pesquisas do Pew Research Center e dados da OCDE apontam que lugares com alta participação associativa e prática religiosa apresentam fecundidade mais alta, mesmo após controles básicos. Redes locais reduzem custos de coordenação, organizam trocas de cuidado, criam informação confiável e estabelecem normas que validam a parentalidade. É essa lógica que as simulações de Galiani e Sosa capturam: quando valores e redes sustentam a família, a fecundidade resiste e a composição muda com o tempo.
Políticas públicas importam, mas funcionam melhor como suporte do que como substituto da vida comunitária. Há medidas de baixo atrito que liberam a ação local: flexibilizar jornadas para reduzir o custo do tempo, dar segurança jurídica a formatos variados de cuidado, usar instrumentos neutros para que famílias escolham soluções de bairro, credenciar microcreches e arranjos domiciliares, apoiar redes de pais e de avós em regime leve.
O papel das mães continua central e a carga segue desproporcional, condicionada por tempo, previsibilidade e normas sociais. Governos podem remover barreiras e proteger e ampliar arranjos que já funcionam. O restante depende de como organizamos nossas próprias normas: grupos de amigos, vizinhanças, escolas e locais de trabalho podem compartilhar cuidados, ajustar horários e tornar crianças bem-vindas no cotidiano.
Se a meta é ter mais crianças sem penalizar quem as tem, vale priorizar liberdade de escolha, tempo disponível e redes ativas. Comunidades progressistas também podem cultivar normas pró-infância; a demografia seguirá o que praticarmos.
LINK PRESENTE: Gostou deste texto? Assinante pode liberar sete acessos gratuitos de qualquer link por dia. Basta clicar no F azul abaixo.
Veja mais em Folha de S. Paulo